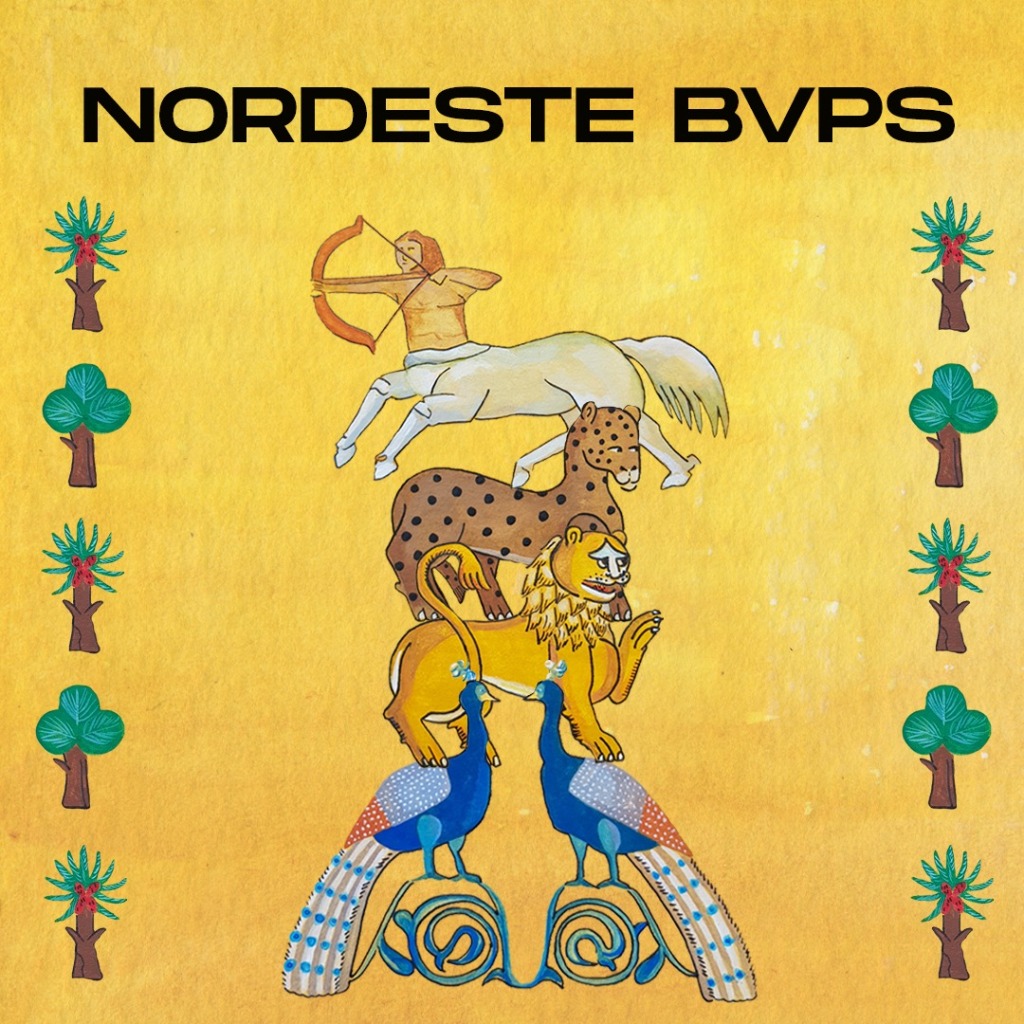
No quarto post da Série Nordeste do Blog da BVPS, trazemos um trecho de “O avesso do moderno”, prefácio à segunda edição do livro Um sertão chamado Brasil, de Nísia Trindade Lima, publicado em 2013 na Coleção Pensamento político-social da editora Hucitec. Defendido como tese de doutoramento em 1997 e publicado originalmente em 1999, o livro abriu caminhos próprios na pesquisa das interpretações da formação da sociedade brasileira ao articular problemáticas como o imaginário espacial da sociedade, a construção do Estado-nação e as interpretações do Brasil. Concorreu ainda para a visibilidade não apenas de temas, como de fontes e interpretações até então pouco consideradas. Sua contribuição é fértil também do ponto de vista teórico-metodológico, juntando-se aos trabalhos que têm modelado o pensamento social brasileiro como área de pesquisa. Tanto na sociedade brasileira, ao longo de sua formação, quanto em nossa densa tradição intelectual, artística e científica, “sertão” costuma ser espaço geográfico, ora pensado como limites, ora como possibilidades quase infinitas. Mas não apenas, pois nele e a partir dele também se projetam metáforas, expectativas econômicas, programas estéticos e projetos políticos. Sertão é espaço social.
A atualidade de Um sertão chamado Brasil – que integra a bibliografia da disciplina Sociologia Política do Nordeste, parceira do Blog da BVPS nesta série – não se esgota, porém, na recepção que vem tendo, ou nos desdobramentos analíticos e de pesquisa que favorece. Mas, ainda, naquilo que, ao mesmo tempo, realiza tão bem e permanece como um desafio aos pesquisadores da sociedade brasileira: uma abordagem atenta à historicidade própria da nossa sociedade que não descura dos seus dilemas mais gerais e dos seus sentidos sociológicos mais amplos. O sertão e seu avesso. O moderno não comporta mesmo travessias disjuntivas, mas passagens, veredas. Ressoam aqui as lições de Riobaldo/Guimaraes Rosa: o sertão “é dentro da gente” ao mesmo tempo em que “do tamanho do mundo”.
Para conhecer mais sobre a Série Nordeste, clique aqui.
Boa leitura!
O avesso do moderno
Prefácio à segunda edição de Um sertão chamado Brasil
Por Nísia Trindade Lima (Fiocruz e Ministério da Saúde)
Um dos mais visitados temas nas artes e nas ciências produzidas no Brasil, o sertão continua a ser objeto de complexas e persuasivas interpretações sobre o país, seus contrastes e, sobretudo, suas desigualdades. Por vezes delimitado com contornos de uma geografia precisa, é, por outras, percebido como uma categoria difusa, indicando, conforme expressão de Guimarães Rosa, o que está sempre mais distante e, ao mesmo tempo, dentro de nós. Serviu de inspiração para obras que escapam a qualquer tentativa de enquadramento em regionalismos ou outras chaves classificatórias semelhantes e se encontram entre as mais consagradas e estudadas de nossa tradição cultural: o livro de Euclides da Cunha; o cinema de Glauber Rocha; as obras ficcionais de Graciliano Ramos e Guimarães Rosa; e toda uma produção sociológica dedicada ao que, no contexto das décadas de 1950 e 1960, denominavam-se populações rústicas. Manifestações de períodos históricos e de estilos artísticos e de pensamentos distintos, ao evocar o sertão, todas elas nos remetem a uma discussão de natureza mais geral sobre a importância da dimensão cognitiva nas sociedades.
De fato, ao refletirmos em perspectiva histórica sobre as ideias e a possibilidade de elas se constituírem em forças sociais, verificamos que algumas persistem e em sua permanência – presente do passado – nos propõem novos desafios. Em muitos casos, perde-se a memória de seu significado original e por vezes isto se torna mesmo irrelevante. Foi o que ocorreu com a ideia de sertão no pensamento social brasileiro e a ela me dediquei em extensa pesquisa de que resultou este livro apresentado agora em segunda edição. Por que o tema do contraste entre o Brasil do litoral e o dos sertões é tão presente nas interpretações sobre o país? Na tentativa de responder a esta pergunta, escolhi um caminho em que se cruzaram o debate sobre a construção da nacionalidade e a reflexão sobre a identidade dos intelectuais, associando a forte presença dessa concepção a duas explicações complementares. De um lado, à forma como os intelectuais percebem os caminhos da modernidade, particularmente no que se refere às distâncias sociais e culturais. De outro, à forma como eles têm representado seu próprio lugar – o de exilados, ou “desterrados na própria terra”, conforme a conhecida expressão de Sérgio Buarque de Holanda (1996). Foi desse modo que apresentei a tese e posteriormente o livro publicado em 1999.
A proposta de trazer à cena esta segunda edição, resultado, sobretudo, da generosidade e do empenho de Elide Rugai Bastos e André Botelho, não poderia deixar de me fazer interpelar sobre a curta história do livro e o sentido de republicá-lo. O fato é que Um sertão chamado Brasil vem inspirando trabalhos acadêmicos, em particular dissertações e teses de doutorado em áreas disciplinares diversas, entre as mais frequentes, sociologia, história, geografia, letras e educação. Pesquisa em curso vem indicando de que modo o diálogo com sua tese central está presente nessas diferentes áreas e em duas vertentes que estruturaram o livro: o argumento a respeito das continuidades cognitivas existentes entre o chamado ensaísmo e as ciências sociais institucionalizadas; e a identificação da dualidade sertão/litoral como referência incontornável na experiência intelectual e política brasileira. [1]
Talvez por sua característica de estabelecer relações entre intelectuais de diferentes períodos, inserções e linhagens cognitivas, a obra constituiu para mim mesma uma porta de entrada para amplo universo de questões, que pude tratar em maior profundidade nos últimos anos. Desse modo, as interpretações do Brasil presentes nos escritos de Euclides da Cunha, Vicente Licínio Cardoso e Roquette-Pinto foram objeto de pesquisas posteriores, algumas resultando em publicações mais densas sobre as ideias mobilizadas por esses autores e o contexto social e cognitivo da elaboração de seus textos (Lima, 2008; 2009; Lima & Sá, 2008). Também as relações entre história, pensamento social, ciência e território foram analisadas em estudos sobre viagens científicas e a divulgação de seus relatórios no século XX. Entre elas, destacam-se a Comissão Rondon; as expedições do Instituto Oswaldo Cruz; a viagem do médico Julio Paternostro ao rio Tocantins e o interessante livro por ele publicado na coleção Brasiliana; e as comissões de estudos para a localização da nova capital da República, nas décadas de 40 e 50 do século passado, um período no qual Brasília chegou mesmo a ser vista como a capital no sertão (Lima, 2008, 2009, 2010; Lima & Sá, 2008; Vieira & Lima, 2011). Recentemente, estudo realizado em colaboração com André Botelho permitiu comparar as viagens realizadas por Carlos Chagas e Mário de Andrade à Amazônia, aos sertões de noroeste, conforme expressão corrente das três primeiras décadas do século XX. Nele nos detivemos nas observações desses dois intelectuais a respeito da natureza, das populações locais e de suas representações sobre malária, civilização e trópico (Lima & Botelho, 2013).
Algumas das ideias apresentadas no livro vêm sendo retomadas como questão de pesquisa, sobretudo no que se refere ao mundo rústico e às relações entre as dualidades nação/região e campo/cidade (Lima, 2011). Em certa medida, trata-se de entender as formas de representar os contrastes tanto no passado como no presente, de uma sociedade constitutivamente desigual e hierarquizada, na qual parece sempre distante a conquista da cidadania democrática. No que se refere à dualidade nação/região, o texto de Elide Rugai Bastos acentua a atualidade do problema, referindo-se à distribuição desigual de bens entre as regiões e os componentes da população brasileira, expressos não somente na participação na renda, mas na “desigualdade de acesso à educação, à saúde, à moradia, ao transporte, aos bens culturais, aos direitos de cidadania, à representação política para a própria formulação dos problemas” (Bastos, 2011: 456). Pode-se acrescentar a participação desigual em um processo de desenvolvimento econômico e social que requer a ciência, a tecnologia e a inovação como seus fundamentos.
É também a partir desse enfoque que a abordagem do par nação/região está presente nas diferentes propostas de desenvolvimento em curso. Em termos de experiência pessoal, a participação na política institucional da Fundação Oswaldo Cruz vem trazendo novos elementos para a reflexão sobre os dilemas da sociedade brasileira, ainda que não sistematizados e de difícil abordagem nos limites desta introdução. O fato é que a instituição vem acentuando seu papel como agência estatal de ciência, tecnologia e inovação em saúde e elegendo a superação das desigualdades regionais do país como um dos principais objetivos de sua atuação. Como era de se esperar, tal direcionamento não se faz sem tensões e conflitos de interesses e projetos, mas o que desejo enfatizar é a importância dessa experiência institucional, que já moldara em parte o contexto da pesquisa original, na atualização da agenda proposta em Um sertão chamado Brasil. Nos acervos da Fiocruz encontram-se documentos textuais e fotografias preciosos para a análise das relações entre ciência, ocupação do território nacional, ideias e políticas de saúde, utilizados no desenvolvimento da pesquisa. Foi o contato com fontes relacionadas à imaginação sobre a saúde e sociedade no Brasil que inspirou o próprio título, uma evocação do “sertão mal roçado chamado Brasil” da célebre conferência proferida em 1919 por Rui Barbosa sobre a questão social no país (Barbosa, 1981). Nesse texto, o intelectual traz para o primeiro plano Jeca Tatu, personagem ícone da população pobre rural, retratada por Monteiro Lobato como ociosa, depois doente, mas, de todo modo, com grande dificuldade para exercer o direito ao voto. Da mesma forma, a agenda contemporânea ao associar saúde, desenvolvimento e equidade traz novos desafios para nossa imaginação social e política sobre o país.
Contudo, começo a me afastar do que seria o objetivo central deste texto introdutório e que convém apresentar desde logo. Não tenho a intenção de proceder a um balanço do livro, atualizando-o, tampouco de realizar um estudo de recepção. Proponho algo menos extenso e mais simples: um diálogo em torno da obra e da questão central por ela enunciada – a continuidade do diagnóstico de uma dualidade constitutiva da formação do Brasil e o quanto ela revela sobre a autorreflexão dos intelectuais e seus dilemas na interpretação desta sociedade. Pelo que trouxeram de aprofundamento e extensão da pesquisa de que resultou o livro, acrescentei ao texto original, dois artigos publicados nos anos que se seguiram à primeira edição: “Brasília: a capital no sertão”, que veio à luz originalmente no livro comemorativo aos cinquenta anos de construção da nova capital, editado pelo IBGE, e “Uma brasiliana médica” publicado na revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos, no suplemento dedicado ao centenário da descoberta da doença de Chagas. Em ambos, retomo, por novos ângulos, a discussão sobre o lugar privilegiado do sertão como categoria-chave na imaginação sobre o Brasil. Ponto de convergência de geografia, história e, sobretudo, política, sertão é também o lugar mais adiante e que pode deixar de existir, daí a importância de retomar sua investigação no presente. Por esta razão, Lucia Lippi de Oliveira (2012() nos adverte que, na medida em que o sertão se transforma em celeiro de commodities, com a expansão do agronegócio, as versões épicas da conquista do território integradas em uma única narrativa nacional possivelmente deixem de fazer sentido. Por outro lado, talvez sertão mantenha seu significado de um de nossos mais importantes mitos fundadores a desafiar projetos de futuro e propostas de desenvolvimento.
* * *
Algumas veredas indicadas no livro publicado em 1999 foram em parte por mim trilhadas nos anos que se seguiram, em trabalhos individuais, em diversas colaborações, e na orientação de teses e dissertações. Escolhi caminhos também percorridos por outros autores com os quais compartilho o interesse pelo estudo das relações entre espaço e imaginação social e política sobre o Brasil e pela história das ciências sociais. Ao reler o livro e pensar em seus desdobramentos, tema desta introdução, me dei conta do quanto essa ideia das viagens pelos sertões, viagem virtual pelos textos e documentos de diferentes épocas, assume força expressiva particular em Um sertão chamado Brasil. Também me dei conta de curioso paralelo: o livro de Euclides nos falava de sertões no plural, tal como era comum nos textos do início do século XX; eu optei por “um sertão chamado Brasil” identificando a força simbólica dessa metáfora para pensar a sociedade brasileira. Há, contudo, outra leitura possível: a existência de muitos outros sertões, em diferentes lugares e tempos, outros sertões dentro e além do Brasil.
Foi exatamente esta a ideia que sublinhei, ao analisar os significados atribuídos a sertão, nos diversos períodos e na voz de diferentes intelectuais mobilizados pela análise, destacando como denominador comum a ideia da distância em relação ao poder público e a projetos modernizadores. Daí a força do livro de Euclides da Cunha e também de outros textos, menos divulgados e que foram analisados em Um sertão chamado Brasil e que constituem, a meu ver, uma das principais contribuições da obra. Dentre os mais expressivos, destaco o de Arthur Neiva e Belisário Penna ao afirmarem que travavam contato com uma população sem assistência e sem proteção de espécie alguma, defendendo a vida a bacamarte e sabendo de governos porque lhes cobravam impostos (Neiva & Penna, 1916).
Em texto recente também abordei as relações entre sertão e cidade, ou melhor, entre sertão e favela (Lima, 2011). Nele observei que no ano da inauguração de Brasília – a capital modernista, construída no sertão – foi publicado o primeiro estudo sociológico abrangente sobre as favelas cariocas. Sobre essa forma de moradia, importantes críticas foram elaboradas, a partir da década de 1960, questionando explicações fundadas na cultura da pobreza, sob inspiração da antropologia rural norte-americana, e no mito da ruralidade e marginalidade de suas populações. Ressaltei, então que a palavra favela tem origem em planta do mesmo nome que, por sua abundância, designava um dos morros de Canudos e passou a nomear o morro do Rio de Janeiro para onde vieram soldados que haviam combatido os seguidores de Antonio Conselheiro.[2] A generalização do termo para os aglomerados urbanos de característica semelhante, no início do século XX, faz pensar nesse encontro ainda hoje tenso e polêmico entre Canudos e civilização urbana; entre sertão e cidade (Lima, 2011). O sertão – o “Brasil velho” – conforme apontou Maria Sylvia de Carvalho Franco (1974) traz em si o moderno. Afinal, e este é o grande argumento subjacente a este livro, pode-se mesmo dizer que o sertão é o avesso do moderno.
Ao colocar em evidência este significado do debate sobre sertão, concluo que a ubiquidade do tema e o desconforto dos que com ele lidaram constituem um dos desafios de nossa tradição intelectual. Por este motivo, espero que este livro seja recebido essencialmente como um convite ao estudo das relações delicadas e densas que constituem, a um só tempo, a sociedade brasileira e o esforço de imaginação dos que se dedicam a decifrar os seus mais inquietantes enigmas.
Notas
[1] A investigação mencionada integra o projeto Cartografia do “Pensamento Social” no Brasil: um mapa de teses e dissertações, realizado por Antonio da Silveira Brasil Jr., sob minha orientação, pelo Programa de Apoio ao Pós-Doutorado no Estado do Rio de Janeiro Capes/Faperj. Agradeço a Antonio e também a Tamara Rangel Vieira pelo apoio na organização desta segunda edição.
[2] Este argumento histórico sobre as favelas está presente no livro de Valladares (2005).
Referências
BARBOSA, Ruy (1981). A questão social e política do Brasil. Ciência e Trópico, v. 9, n. 2, p. 171-8.
BASTOS, Elide Rugai. (2011). Região e nação: velhos e novos dilemas. In: BOTELHO, André & SCHWARCZ, Lilia M. (orgs.). Agenda brasileira: temas de uma sociedade em mudança. São Paulo: Companhia das Letras.
FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. (1974). Homens livres na ordem escravocrata. São Paulo: Kairós Livraria Editora.
HOLANDA, Sergio Buarque de. (1996). Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.
LIMA, Nísia Trindade. (2011). Campo e cidade: veredas do Brasil moderno. In: BOTELHO, André & SCHWARCZ, Lilia M. (orgs.). Agenda brasileira: temas de uma sociedade em mudança. São Paulo: Companhia das Letras.
LIMA, Nísia Trindade. (2010). Brasília; a capital no sertão. In: SENRA, Nelson de Castro (org.). Veredas de Brasília: as expedições geográficas em busca de um sonho. Rio de Janeiro: IBGE.
LIMA, Nísia Trindade. (2009). Uma brasiliana médica: o Brasil Central na expedição científica de Arthur Neiva e Belisário Penna e na viagem ao Tocantins de Julio Paternostro. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 16 (supl. 1), p. 229-48.
LIMA, Nísia Trindade. (2008). A cidade descobre o sertão: notas sobre a viagem de Roquette-Pinto a Rondonia e a dos médicos Arthur Neiva e Belisario Penna ao Brasil Central. In: ALMEIDA, Marta de & VERGARA, Moema de Rezende (orgs.). Ciência, história e historiografia. São Paulo: Via Letera; Rio de Janeiro: Mast.
LIMA, Nísia Trindade & BOTELHO, André. (2013). Malária como doença e perspectiva cultural nas viagens de Carlos Chagas e Mário de Andrade à Amazônia. História, Ciências, Saúde — Manguinhos (Impresso).
LIMA, Nísia Trindade & SÁ, Dominichi Miranda de (orgs.). (2008). Antropologia Brasiliana: ciência e educação na obra de Edgard Roquette-Pinto. Belo Horizonte: Ed. UFMG; Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz.
NEIVA, Arthur & PENNA, Belisario. (1916). Viagem científica pelo Norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, sul do Piauí e de norte a sul de Goiás. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 8, n. 30, p. 74-224.
OLIVEIRA, Lúcia L. (2012). Prefácio. In: MAIA, João Marcelo E. Estado, território e imaginação espacial. Rio de Janeiro: Ed. FGV.
VALLADARES, Lícia do Prado. (2005). A invenção da favela: do mito de origem a favela.com. Rio de Janeiro: Ed. FGV.
VIEIRA, Tamara R. & LIMA, Nísia Trindade. (2011). A capital federal nos altiplanos de Goiás – medicina, geografia e política nas comissões de estudos e localização das décadas de 1940 e 1950. Estudos Históricos, v. 24, n. 47, p. 29-48.
Imagem: Joana Lavôr, colagem da série Dei Normani, Sicília. Para a disciplina/série Blog da BVPS Nordeste Autopoiesis.
Descubra mais sobre B V P S
Assine para receber os posts mais recentes por e-mail.
